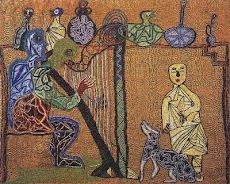Em 1848, a publicação do “Manifesto Comunista” anunciava que teria se aberto uma época de revolução social. No entanto, durante o meio século que se seguiu, o capital continuou desenvolvendo as forças produtivas, e a perspectiva da revolução socialista foi adiada para o século XX, contrariando as expectativas de Marx e Engels. Em plena I Grande Guerra Mundial, no apogeu do domínio e da disputa inter-imperialista, Lênin publicou O Imperialismo, estágio supremo do capitalismo, e apresentou o vaticínio de que essa fase seria o auge e, ao mesmo tempo, a última etapa do Capital, porque o período de sua agonia e decadência, colocando a humanidade diante do dilema da transição socialista ou da regressão civilizatória, a barbárie. Um prognóstico, já controverso, no seu tempo. E ainda hoje, mesmo entre marxistas.
Enunciemos o tema deste artigo: a categoria “época de revolução social” era central ou marginal na teoria da história que Marx apresentou ao moderno movimento operário? Qual seria, hoje, a atualidade do conceito “época de revolução social”? Podemos considerar em vigência a caracterização sugerida por Marx e atualizada por Lênin? Em que medida as revoluções do século XX confirmaram que vivemos uma época de revolução social? Que alternativa teórica nos é oferecida pela historiografia conservadora, para explicar que a mudança política recorreu nos últimos cem anos, como nunca antes na história, aos métodos da mobilização revolucionária de massas?
Vejamos, primeiro, qual foi o entendimento de Marx a respeito. Muito além de uma caracterização política da conjuntura, portanto, instrumental, das circunstâncias em que foi escrito e publicado, às vésperas da onda revolucionária que varreu a Europa em 1848, o Manifesto apresentava os critérios de avaliação do que seria uma época revolucionária:
“As forças produtivas disponíveis já não mais favorecem as condições da propriedade burguesa; ao contrário, tornaram-se poderosas demais para essas condições que as entravam; e, quando superam esses entraves, desorganizam toda a sociedade, ameaçando a existência da propriedade burguesa. A sociedade burguesa é muito estreita para conter as suas próprias riquezas.”[1](grifo nosso)
A utilização do conceito de época no Manifesto foi feita, indistintamente, em diferentes níveis de abstração, e em referência a processos de dimensões e medidas muito diferentes. Marx estaria anunciando a abertura de uma época revolucionária, na longa duração secular, ou reconhecendo a iminência de uma situação revolucionária, na curta duração dos anos ou meses? Ou ambos, o que, talvez, seja o menos controverso? De qualquer forma, parece certo que o uso das categorias de temporalidades neste documento é feito de maneira indeterminada o que, muito provavelmente, revela que a elaboração destas idéias ainda estava em um estágio embrionário. Os autores do Manifesto, contudo, eram conscientes da necessidade de buscar uma “sintonia fina” na análise dos ritmos da transformação histórica que se desenvolvia diante dos seus olhos. Por isso, visivelmente, se preocuparam, posteriormente, em aprimorar os instrumentos conceituais.
Por exemplo, a partir da derrota das revoluções de 1848, no balanço final de As lutas de classe em França, quando se conclui que a etapa revolucionária teria se fechado, se sugere uma medida de situação. Já na célebre passagem do Prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, quando o tema é retomado de forma mais abstrata, todas as referências foram construídas em uma esfera de época, portanto, de longa duração.
A nova teoria crítica foi construída em uma polêmica com o pensamento socialista pré-marxista, e a necessidade de ir além da esfera dos imperativos ético-morais de ruptura com a injustiça social.[2] O desafio de transformação da sociedade capitalista não estaria colocado em todas e quaisquer circunstâncias, dependendo da vontade dos revolucionários, mas condicionado pela maturidade de fatores objetivos que dependiam do grau de desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, e da correspondente presença de um novo sujeito social capaz de lutar, revolucionariamente, pelo poder: os trabalhadores. Já na Ideologia Alemã alguns anos antes, surgia, ainda embrionária, mas de forma aguda, a importância do conceito de época revolucionária, como sendo aquela em que a possibilidade da transição já estaria aberta. Ainda que, talvez, recorrendo à paradoxal dialética da fórmula hegeliana, (porque simultaneamente reacionária e revolucionária) que admite que “tudo que é real é racional” e “tudo que é racional é real”. Sendo a crise do capitalismo real (e portanto necessária) e a necessidade da transição pós-capitalista ou socialista racional...a segunda estaria contida como potencialidade na primeira. Vejamos algumas das observações de Marx e Engels:
“No desenvolvimento das forças produtivas atinge-se um estado onde surgem forças produtivas e meios de circulação que só podem ser nefastos no âmbito das relações existentes e já não são forças produtivas mas sim forças destrutivas (o maquinismo e o dinheiro), assim como, fato ligado ao precedente, nasce no decorrer desse processo do desenvolvimento uma classe que suporta todo o peso da sociedade sem desfrutar das suas vantagens, que é expulsa do seu seio e se encontra em uma oposição mais radical do que todas as outras classes, uma classe que inclui a maioria dos membros da sociedade e da qual surge a consciência da necessidade de uma revolução, consciência essa que é a consciência comunista e que, bem entendido, se pode também formar nas outras classes quando se compreende a situação desta classe particular.”[3] (grifo nosso)
Nesse parágrafo, a contradição entre a maturidade das forças produtivas e a caducidade das relações existentes (econômico-sociais)[4] é interpretada como sendo um estágio em que, as primeiras (que têm primazia na definição da dinâmica interna do modo de produção), ao não encontrarem condições favoráveis ao seu desenvolvimento, invertem seu signo histórico progressivo e, tendencialmente, degeneram em forças destrutivas. Em outras palavras, é anunciado, pela primeira vez, o prognóstico histórico socialismo ou barbárie, que é somente uma outra maneira de colocar na forma de disjuntiva em aberto, os desafios de um período revolucionário de longa duração em que a transição histórica é possível.
Em uma época revolucionária, segundo Marx, se as novas forças sociais com interesses anti-capitalistas não fossem capazes de abrir o caminho para relações sociais superiores, ou se o intervalo da transição histórica viesse a ser muito prolongado, estaria colocada a ameaça de uma regressão social. O perigo da barbárie, portanto, admitido hoje até por pensadores anti-marxistas, não escapou à atenção de Marx.
Dois critérios para a definição de época: o nível atingido pelas forças produtivas e a maturidade do sujeito social revolucionário
Já na Ideologia Alemã, Marx e Engels referiam-se aos dois “elementos materiais” de uma “subversão total” e definem: 1º) o nível atingido pelas forças produtivas aprisionadas nas relações sociais e 2º) a existência de um sujeito social, como sendo as condições necessárias para abertura de uma época revolucionária:
“São igualmente essas condições de vida que cada geração encontra já elaboradas que determinam se o abalo revolucionário que se reproduz periodicamente na história será suficientemente forte para derrubar as bases de tudo quanto existe; os elementos materiais de uma subversão total são, por um lado, as forças produtivas existentes e, por outro, a constituição de uma massa revolucionária que faça a revolução não apenas contra as condições particulares da sociedade passada mas ainda contra a própria «produção da vida» anterior, contra o «conjunto da actividade» que e' o seu fundamento; se essas condições não existem, é perfeitamente indiferente, para o desenvolvimento prático, que a Idéia desta revolução já tenha sido expressa mil vezes... como prova a história do comunismo.[5](grifo nosso)
Ou seja, em determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, as relações sociais predominantes, de elemento de impulso do progresso social, se transformam em um obstáculo: a estrutura social não favorece mais a ampliação do progresso, e se transforma em um elemento reacionário de bloqueio, que ameaça a sociedade de estagnação, ou degeneração. Toda a polêmica se resume, em última análise, em saber: qual teria sido esse momento em que as relações sociais capitalistas, de elemento de impulso, passaram a ser um fator de bloqueio das força produtivas? Que Marx tenha se equivocado na aplicação histórica do conceito por antecipação, um equívoco comum a todos os revolucionários que abraçam um projeto político que tem pressa, não diminui a importância teórica do conceito como instrumento de caracterização. Por isso, Lênin e depois Trotsky o recuperaram para compreender a nova realidade mundial aberta após 1914.
A elaboração de Marx se inspirava, como sabemos, em uma análise comparativa do que foi a passagem do feudalismo ao capitalismo. Assim, enquanto a acumulação capitalista nos burgos medievais era embrionária, as relações feudais que estabeleciam obrigações sobre as cidades não impediam os avanços econômicos e sociais da burguesia. Mas a formação do mercado mundial, a elevação das forças produtivas das formas artesanais para a manufatura, o aumento na circulação das mercadorias e do dinheiro, vieram a encontrar na estrutura feudal, em seguida, em um processo que exigiu a lentidão de alguns séculos, um entrave que precisava ser deslocado, sob pena, de bloquear ou abortar a dinâmica de desenvolvimento das forças produtivas. Passou a ser necessário eliminar as fronteiras internas; garantir a livre circulação de mercadorias e a disponibilidade da força de trabalho; erradicar a beligerância endêmica da nobreza. Essas tarefas exigiam deslocar os privilégios sociais e políticos da aristocracia. Depois de séculos de um processo desigual, que assumiu ritmos e formas muito diferentes em cada região da Europa, não foi mais possível adiar a necessidade de destruir o estado absolutista aonde ele tinha preservado a sua fortaleza mais poderosa, na França. Por isso ela foi o palco da maior e mais profunda revolução burguesa. Mas qual foi a lição teórico-histórica que Marx retirou dessa análise?
Quando se produz esse choque entre o impulso das forças produtivas, e as forças de inércia das relações sociais, a sociedade entra em uma época revolucionária, ou seja, uma época em que as lutas de classes assumem o papel de força motriz determinante do impulso histórico, no lugar que, em épocas não-revolucionárias, é ocupado pelo desenvolvimento das forças produtivas, isto é, a luta da humanidade pelo domínio da natureza. Quando em uma fase histórica, as relações sociais passam a ser um fator de obstáculo e desperdício das forças produtivas, abre-se um período de turbulência econômico-social e política crônica, que pode se estender por uma longa duração, uma época de grandes convulsões e lutas, mais ou menos conscientes, no qual as classes ascendentes lutam contra a velha ordem social.
Dois tipos de transição históricas: revolucionárias e catastróficas
Na história existiram, no entanto, tanto transições de tipo revolucionário, quanto transições de tipo catastrófico: as segundas foram, para o fundamental, quase uma regra, até a transição do feudalismo ao capitalismo na Europa, pela inexistência de um sujeito social revolucionário. Mas, não nos enganemos: todo processo histórico tem suas complexidades, as desigualdades de proporções e maturação das relações econômico-sociais, e os amálgamas mais surpreendentes não são exceção. Não existem processos quimicamente puros na história. A transição burguesa foi repleta de elementos semi-catastróficos e, mesmo considerando-se a forma catastrófica do desmoronamento do escravismo em Roma, existiram intensas luta de classes na passagem para as relações de servidão que se impuseram no feudalismo europeu. Mas o lugar da teoria é através da análise separar o essencial da dinâmica de cada processo daquilo que foi acessório. Nesse sentido, denominamos transições revolucionárias ou semi-revolucionárias aquelas que foram fundamentalmente determinadas pelos fatores endógenos de uma formação econômico-social, as suas lutas de classes internas, e classificamos como catastróficas aquelas que tiveram na sua raiz causas exógenas ao modo de produção.
No Mediterrâneo, por exemplo, apesar da longa decadência do império romano, não ocorreu uma transição revolucionária impulsionada pelo protagonismo da massa de escravos. E o império veio finalmente a sucumbir sob a pressão das grandes migrações germânicas, depois de uma longa decadência interna. Não há controvérsia histórica que o escravismo freou o desenvolvimento das forças produtivas no mundo antigo, mas as relações sociais não foram revolucionadas a partir de dentro, porque inexistia uma classe capaz de assumir, social e politicamente, um projeto superior à organização econômica das civilizações clássicas. Assim, por séculos, as forças produtivas decaíram, estagnaram, retrocederam, ou seja, a sociedade, de conjunto, regrediu, para somente sob as ruínas do desmoronamento de Roma, e após um longo intervalo de barbárie, entre o século V e o VIII, poder encontrar um caminho de progresso social, sob a base das novas relações feudais.
Entre os processos mais inverossímeis da história se destaca o efêmero reino dos Vândalos em Cartago. Depois de vagarem pelo sul da Europa durante alguns anos dedicados ao saque e à rapina, como outras tribos germânicas, os Vândalos cruzaram o estreito de Gibraltar e fixaram-se no norte de África onde impuseram o seu domínio feroz, escravizando impiedosamente os conquistados. Foram processos como esse, que levaram a maioria dos historiadores marxistas a considerarem que as revoltas de escravos não eram portadoras de qualquer projeto de reorganização da produção econômico-social que fosse muito diferente dos limites históricos que emprisionavam as força produtivas no escravismo do Mediterrâneo greco-romano.
Vejamos agora a questão da transição socialista. Marx dedicou toda a sua obra à defesa do argumento de que ela seria a mais consciente de todas as transições, porque não dependeria somente da abertura de uma época de revolução social, condicionada por fatores objetivos, mas da organização de uma vontade política de ir além da propriedade privada. Mesmo um sumário e limitado olhar comparativo sobre a transição do feudalismo ao capitalismo nos permite observar a originalidade desta hipótese teórico-histórica. A extensão e generalização das relações mercantis, impulsionada pelo saque do ouro e da prata americana e pela escravização africana, permitiram à burguesia desenvolver o capitalismo nas entranhas da sociedade feudal muito antes da conquista do poder político. A burguesia conquistou posições econômicas nos burgos, acumulou riqueza e até uma certa autonomia política nas cidades em formação, incentivou a fundação de universidades, gerou cultura, moral e ideologia, o que permitiu uma identidade, consciência e organização de classe muito antes de ter afirmado sua hegemonia política no Estado.
Ainda assim, mesmo considerada esta capacidade incontestavelmente superior de construir forças subjetivas em um lento processo de longa duração, a transição burguesa foi recheada de períodos de estagnação, intervalos acidentais, recuos transitórios. Por isso dizemos que foi semi-catastrófica e semi-revolucionária. Em relação à transição burguesa, utilizamos o conceito de passagem semi-catastrófica no sentido de que o processo foi, apesar das formas revolucionárias, em grande medida, “inconsciente”. Em outras palavras, a passagem ao capitalismo foi, sem dúvida, acelerada por sucessivas rupturas revolucionárias, como a rebelião das províncias Unidas contra a Espanha no final do XVI, ou a revolução de Cromwell em 1640 na Inglaterra, mas desenvolveu-se pela coexistência de relações sociais mercantis e relações arcaicas medievais em um amálgama de combinações, variáveis de região para região, mas de forma alguma incompatíveis entre si. Há que tomar com pinças e com cuidado este conceito, porque só pode ser considerado de forma relativa já que, a rigor, toda ação humana supõe algum grau de consciência e, portanto, a questão consiste em apreciar se, o nível de consciência, estava maduro, proporcionalmente à tarefa. O que é sempre uma avaliação que o presente faz do passado, com uma margem de erro necessariamente grande. Por outro lado, vale a pena sublinhar que a transição burguesa foi de longuíssima duração (para alguns autores existem elementos capitalistas desde os século XI), com recorrentes regressões, em que os elementos capitalistas eram bloqueados ou mesmo destruídos. Nos apoiamos para essas conclusões em Vilar:
“Resta considerarmos que um regime social não está constituído exclusivamente por seus fundamentos econômicos. A cada modo de produção corresponde não somente um sistema de relações de produção, como também um sistema de direito, de instituições e de formas de pensamento. Um regime social em decadência serve-se precisamente deste direito, dessas instituições e desses pensamentos já adquiridos, para opor-se com todas suas forças às inovações que ameaçam a sua existência. Isto provoca a luta das novas classes, das classes ascendentes, contra as classes dirigentes que ainda acham-se no poder (...) O regime feudal não morreu sem defender-se”(grifo nosso)[6]
Existiu também na historiografia de influência marxista uma tendência abusiva a caracterizar como feudalismo outros modos de produção baseados na produção agrária extensiva e na coerção político-militar camponesa. O que foi realmente extraordinário, mas freqüentemente se esquece, em relação ao feudalismo europeu, é que ele criou as condições para a única passagem revolucionária que favoreceu a revolução industrial. Como se sabe, o feudalismo foi um dos modos de produção que se caracterizou na história pela apropriação do sobreproduto social por métodos extra-econômicos. Mas não foi o único. Na verdade, todos os modos de produção pré-capitalistas se caracterizaram exatamente por isso. Logo, o que o diferenciou, essencialmente, mais do que apoiar-se na coerção político-militar camponesa, foram as formas específicas das relações sociais e políticas (a soberania parcelada, um complexo sistema de hierarquia de vassalagem, o sistema dos feudos) que permitiram a formação de uma classe média urbana de comerciantes e artesãos. Entre essas formas estaria, segundo Perry Anderson, as características peculiares da super-estrutura do Estado feudal.
Ocorreram, também, passagens de tipo reformista (transições negociadas ou controladas, em que predominam os acordos, as concessões mútuas, as acomodações de interesses, diante de um perigo maior), quase sempre, como uma conseqüência de passagens revolucionárias prévias no plano internacional.
Em resumo, esses eram, portanto, para Marx, os fatores que, com regularidade histórica, definiam a abertura de uma época revolucionária: a maturidade das forças produtivas, para uma reorganização da vida econômico-social, impulsionada por relações de produção superiores, e a existência de um sujeito social explorado que tenha interesses incompatíveis com a preservação da ordem.
Teoria minimalista e teoria reativa: duas respostas alternativas à hipótese marxista
Vejamos agora a polêmica que remete ao conceito de época, e mais especificamente, o questionamento ao critério marxista das lutas de classes como força de impulso do processo histórico. Sempre ficamos intrigados pela resposta teórica que a historiografia mais conservadora apresenta como proposta de elucidação do tema das revoluções. Afinal, se não existem épocas revolucionárias, como interpretar a recorrência das revoluções políticas, como terreno das transformações históricas? Alguns esclarecimentos são necessários, para limpar o terreno de perigosas confusões empiricistas: não se pode definir senão como um despropósito de excesso de zelo, exacerbado pela necessidade ideológica, a insistência, ainda hoje, nas teorias conspirativas paranóicas que procuram explicar as revoluções como uma obra de lunáticos extremistas e intelectuais ressentidos, que manipulam a ingenuidade das aspirações das massas...
Mas a história pode se beneficiar dos argumentos de duas teorias que alimentam a discussão de forma mais produtiva. Embora parciais e esquemáticas, elas elevam o nível do debate, ao aceitar que as revoluções não são “aberrações” políticas, mas respondem às necessidades de um certo momento histórico. Com uma origem exterior ao marxismo, mas depois apropriadas por alguns autores marxistas, ou pós-marxistas, se popularizaram, para explicar uma suposta “excepcionalidade” da emergência quase “acidental” de situações e crises revolucionárias no século XX, e defender que a época contemporânea seria, no fundamental, uma época de prosperidade capitalista, de afirmação da democracia e de reformas.
Só como exceções, como terremotos sociais, transitórios e efêmeros, as revoluções perturbariam a marcha serena e evolutiva da história. Ambas partem de premissas diferentes e verdadeiras, ou pelo menos, parcialmente verdadeiras, para retirar conclusões teóricas insatisfatórias. O endereço final é, no entanto, o mesmo, embora os caminhos sejam diversos.
A primeira e mais próxima do senso comum, que nos atrevemos definir como a teoria “minimalista”, afirma que situações revolucionárias só seriam possíveis, quando as condições de exploração do proletariado são de tal forma intensificadas, que as massas vêm as suas condições de vida reduzidas a níveis de sobrevivência biológica intoleráveis. Resumo da ópera: erradicada a fome ancestral, a era das revoluções seria uma memória do passado
A segunda, a teoria “democrática” reativa, afirma que não existem nem épocas revolucionárias nem épocas reformistas, e que essas medidas de periodização são imaginárias e descartáveis. Tem dois argumentos principais: (a) atingido um estágio de maturidade civilizatório suficiente, para garantir que o Estado não interfira na regulação cega feita pelo mercado garantindo, sem ingerências, o impulso de permanente renovação tecnológica; (b) e a maturidade dos regimes democráticos, em que a regulação dos conflitos esteja ordenada pelo império da lei, estaria encerrada a era das revoluções. É o que defende, entre muitos outros, François Furet:
“Em certo sentido, Kautsky reitera a crítica de sua velha adversária de esquerda Rosa Luxemburgo: como ela, nega aos bolcheviques o privilegio de representarem toda uma classe social. Ela, porém, pelo menos compartilha com Lênin a idéia de que uma revolução proletária está desenvolvendo-se na Rússia. Ele, não. Ele pensa, como os mencheviques, que não só Fevereiro de 1917, mas também Outubro não podem escapar à sua determinação histórica: a velha Rússia liquida o Antigo Regime. O que se passa ali não é a primeira revolução socialista e sim a última revolução burguesa. O curto-circuito pelo qual Lenin e Trotski, desde 1905, querem que a Rússia pule toda uma época histórica só pode levar ao despotismo de um partido sobre um povo; ele trará de volta à ordem d0 dia uma experiência de voluntarismo político absoluto cujo fracasso fatal já o jacobinismo francês ilustrara.”(grifo nosso)[7]
Neste fragmento, Furet habilidosamente se esconde atrás de Kautsky, mas o argumento é o mesmo. Quando muito, porque Furet conquistou seu público pela desqualificação da revolução francesa quando do bicentenário em 1989, o método das revoluções teriam sido necessário para abrir o caminho para o capitalismo e para a democracia, mas depois se tornado obsoletas. Só podemos esperar Fevereiros e se, pela ousadia dos socialistas, se ensaiarem novos Outubros, estaremos diante de outras “aberrações históricas” voluntaristas, condenadas a “degenerar em tiranias”. As revoluções seriam, portanto, segundo esta teoria reativa (revolução por reação à tirania), uma herança de um período histórico passado, um período de desenvolvimento da civilização anterior à afirmação das modernas democracias. Todas as revoluções teriam sido provocadas pela perenidade tardia de regimes tirânicos e ditatoriais que mereciam sucumbir, ou então, como respostas defensivas e preventivas às tentativas de impor regimes ditatoriais. Por isso todas as revoluções seriam, essencialmente, revoluções democráticas, mesmo quando os seus sujeitos sociais foram as massas populares. Essas só se levantam e mobilizam recorrendo ao uso de métodos revolucionários extra-democráticos, quando subjugadas por tiranias intoleráveis.
Mas, estabelecidos os regimes democráticos, estaria esgotado o período histórico das revoluções políticas. Em consonância, argumentariam como demonstração, “vejam a derrota de todas as mobilizações revolucionárias de massas, que encontraram pela frente a solidez dos regimes democráticos republicanos”. Assim, a humanidade poderia prosseguir o curso evolutivo civilizatório do progresso, poupando-se das agruras das convulsões de massas. A época das revoluções seria coisa do passado.
Existem, certamente, outras formulações da teoria reativa. A mais conhecida é a que defende que a contra-revolução é provocada pelos excessos da revolução. Assim, o nazismo, por exemplo, é, freqüentemente, explicado e, dependendo do caso, justificado como uma reação desesperada, mas defensiva, diante do perigo de um triunfo bolchevique na Alemanha. Na mesma linha, a ditadura militar no Brasil, procurou justificar a contra-revolução em 64 como reação defensiva diante dos excessos populistas e comunistas das mobilizações populares dos anos 62/63. Os exemplos são incontáveis, e remetem até às controvérsias em torno da revolução francesa, e os excessos de radicalismo republicano e plebeu dos jacobinos. De qualquer forma, não há como evitar essa discussão, sempre que o tema da revolução precise ser encarado teoricamente.
Revolução e contra-revolução são fenômenos indivisíveis um do outro e, como ensina a mais elementar dialética, as causas se transformam em conseqüências e vice-versa. Esta discussão, neste terreno de “tribunal ético”, quem tem culpa do quê, é historicamente estéril. A História, gostem ou não os pensadores conservadores, ou os reacionários de sempre, utilizou e utiliza ainda, a revolução como fator de impulso histórico e alavanca de transformação social. Os métodos revolucionários são os que as massas têm à sua disposição, para enterrar os regimes obsoletos que se colocam no caminho dos seus interesses.
Se o fazem com excesso de radicalismo, se as revoluções cometem erros e exageros, se na corrente violenta das mobilizações de milhões são arrastadas, junto com as formas arcaicas de organização social, mais do que seria, eventualmente, necessário, e se cometem injustiças, não cabe aos historiadores julgar. A função da História é buscar as explicações. Vejamos, mais detalhadamente, essas duas formulações sobre época e suas premissas teórico-históricas.
A hipótese minimalista e seu mais poderoso argumento: as massas só estão dispostas a lutar quando encurraladas em condições de miséria biológica.
Consideremos primeiro, a hipótese minimalista e seus pressupostos. Ela se sustenta que, eliminadas as condições materiais e culturais atrozes herdadas do passado pré-capitalista, a humanidade estaria poupada dos horrores das convulsões revolucionárias. Em resumo, sem pobreza biológica, não ocorreriam mais revoluções.
Assim, como a fome e a miséria mais aberrantes teriam sido erradicadas nos países centrais, ou reduzidas a um fenômeno marginal entre comunidades de emigrantes ilegais (negros, latinos, árabes, turcos), a perspectiva de situações revolucionárias seria somente uma possibilidade pitoresca em países exóticos. A própria luta de classes seria um fenômeno residual, já que os sujeitos sociais coletivos teriam sido pulverizados pelas sucessivas reestruturações produtivas do capitalismo.
No Brasil se estabeleceu um incrível senso comum muito difundido a esse respeito: a idéia de que os pobres (proletários, negros, ignorantes) só lutam quando estão desesperados e com a barriga vazia. Feijão, farinha, cachaça, futebol, samba e sexo, e estamos conversados. Isso seria o bastante para assegurar a paz social e a resignação política das massas. Existe até uma produção teórica nas Ciências sociais e na História, incapaz de imunizar-se dos mais desconcertantes preconceitos de classe. Parece incrível como, em um país como o nosso, com impressionantes desníveis de escolarização, desigualdade social, e discriminação racial, entre outros, não faltam obras em que a luta de classes é ignorada para explicar a nossa história, como se a resistência do mundo do trabalho inexistisse. A subestimação das classes populares, em grande medida herdada como parte da tradição que o escravismo deixou, se expressa na subestimação do protagonismo dos sujeitos sociais populares.
Evidentemente, as massas populares lutam pelo elementar direito à vida, e em um país como o Brasil, em que a fome não é um registro literário do passado, combates violentos e ferozes na luta de classes visam garantir as mais elementares condições de sobrevivência. Mas estas simplificações são preconceituosas porque, intencionalmente, ignoram que, os trabalhadores, como aliás todas as classes sociais na história, proprietárias ou não proprietárias, lutam incansavelmente pela defesa de suas conquistas, muito antes de verem suas vidas reduzidas à miséria. Essa é a essência dos combates na luta de classes: reações defensivas contra a elevação das taxas de exploração.
Foi porque se sentiram ameaçadas de verem suas condições materiais de existência se deteriorarem, ainda mais, que as grandes multidões sempre se levantaram na história. Como compreender a determinação revolucionária da burguesia francesa em 1789, e dos setores plebeus que a apoiaram, sem analisar a contra-ofensiva da monarquia dos Bourbons depois da guerra contra a Inglaterra? Como compreender a obstinação do proletariado de Petrogrado contra o Governo provisório de Kerensky, sem analisar a insanidade da política de manter a Rússia na guerra contra a Alemanha depois de Fevereiro?
Na época imperialista, o capitalismo representou progressão ou regressão histórica?
As teses minimalistas são também polêmicas porque se apóiam na premissa de uma melhoria lenta, porém constante, do nível de consumo das massas, sob o capitalismo do século XX, o que está, por enquanto, longe de ter confirmação histórica incontroversa. Se as revoluções só são possíveis em situações de miséria biológica e se essas condições estiveram desaparecendo, logo, touché, não há porque temer o perigo de novas revoluções no horizonte. A esse respeito, reproduzimos, a seguir, uma passagem do manifesto de fundação da Primeira Internacional, de dezembro de 1864, em que Marx avança o seu vaticínio sobre o tema do empobrecimento dos trabalhadores :
“Y así, vemos que, es hoy, en todos los paises de Europa, una. verdad comprobada para cualquier espiritu exento de prejuicios y que sólo niegan los prudentes e interesados predicadores de un paraíso de necios, que ni el desarrollo de la maquinaria, ni los descubrimientos químicos, ni la aplicación de la ciencia a la producción, ni los progresos de los medios de comunicación, ni las nuevascolonias, ni la emigración, ni la apertura de nuevos mercados, ni el librecambio, ni todo ello junto, puede acabar con la miseria de las masas trabajadoras, sino que, por el contrario. mientras se mantenga en pie, la falsa base actual, todo nuevo desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, debe tender necessariamente a ahondar los contrastes sociales y agudizar la contradicción social. Durante esta "embriagadora" época de progreso económico, la muerte por hambre casi se ha elevado al rango de una intitución en la capital del Imperio Britanico. En los anales del mercado mundial, esta misma época se ha caracterizado por la repetición cada vez más rápida, la extensión cada vez más amplia y los efectos cada vez más mortíferos de esta peste social que se llama la crisis indusrial y comercial.”[8] (grifo nosso)
O fragmento fala por si próprio, mas não encaremos os escritos de Marx com dogmatismo. Não seríamos dignos de sua herança. Perguntemo-nos, portanto, teria Marx se equivocado? Seria demonstrável, historicamente, que o capital conseguiu elevar as condições materiais de vida dos trabalhadores? Podemos aceitar essa premissa como incontroversa? Marx previa uma crescente pauperização das massas trabalhadoras. Como sabemos, o balanço desse prognóstico, está indissoluvelmente ligado às discussões de estratégia. Não poucos marxistas defendem, com unhas e dentes, que Marx se teria equivocado. Esta discussão não é simples: essencialmente, acertou ou errou?
Admitamos que existiram períodos de crescimento sustentado, que reduziram os extremos de desigualdade e pobreza nos países centrais, em particular nos trinta anos do pós-guerra. Mas, mesmo nos centros dos Impérios que governam o mundo, nos últimos vinte e cinco anos, a nova crise prolongada tem tido efeitos devastadoras sobre a nova geração. Se ela atinge, em primeiro lugar, os sectores mais vulneráveis dos trabalhadores, os imigrantes e os jovens, isso não quer dizer que os batalhões mais massivos do proletariado estejam poupados. A fome é ainda um fenômeno crônico no final do século XX, e a miséria biológica vitima, pelo menos, um em cada três seres humanos, algo próximo a dois bilhões de seres humanos. Na medida em que a crise de super-acumulação de capital exige uma elevação da taxa de exploração, ou seja, um aumento da extração de mais valia, para impedir a queda das taxas médias de lucro, mesmo os trabalhadores dos países centrais terão as suas conquistas ameaçadas. Assim, ainda que com flutuações históricas, que alimentaram conclusões apressadas e impressionistas, na longa duração, o prognóstico premonitório de Marx, se apresenta com uma atualidade surpreendente. Vejamos o balanço a esse respeito de Wallerstein:
“Não é óbvio que haja mais liberdade, igualdade e fraternidade no mundo atual do que havia há mil anos. Pode-se dizer que o oposto é verdade. Não estou tentando pintar um mundo idílico que teria existido antes do capitalismo histórico. Houve mundos de pouca liberdade, pouca igualdade e pouca fraternidade. A questão é saber se o capitalismo histórico representou progresso ou regressão quanto a isso(...) Preferiria apoiar minha hipótese em considerações materiais, não sobre o futuro social mas sobre o período atual da economia mundial capitalista. O argumento é simples, mas audacioso. Quero defender uma proposição marxista que mesmo os marxistas ortodoxos tendem a rejeitar; a tese do empobrecimento absoluto (não relativo) do proletariado. Posso ouvir sussurros amigáveis: você não está falando sério; com certeza, quis dizer empobrecimento relativo, não é? O trabalhador industrial não está hoje muito melhor do que em 1800? O trabalhador industrial, sim, ou pelo menos muitos trabalhadores industriais. Mas a categoria trabalhador industrial" continua a abranger uma pequena parte da população mundial. A maioria esmagadora das forças de trabalho do mundo, que vive nas zonas rurais ou se desloca entre elas e as favelas urbanas, está em piores condições do que seus ancestrais que viveram há quinhentos anos. Comem menos bem, e sua dieta écertamente menos balanceada. Embora tenham maiores possibilidades de sobreviver ao primeiro ano de vida (um subproduto da higiene social empreendida para proteger os privilegiados), duvido que a perspectiva de vida da maioria da população mundial a partir de um ano de idade sejam melhores que antes; desconfio que o oposto é verdade. Eles trabalham inquestionavelmente mais, mais horas por dia, por ano e ao longo da vida. Como o fazem em troca de uma recompensa total menor, a taxa de exploração aumentou muito.”[9]
Wallerstein exagera? Analisando a estagnação da economia mundial dos últimos vinte e cinco anos, parece razoável concluir que, mesmo se considerarmos os trinta anos de crescimento capitalista sustentado na seqüência da II Guerra Mundial, é pouco razoável afirmar que o capital vem conseguindo uma elevação das condições de vida do trabalho à escala mundial. Antes o oposto parece plausível. As massas têm, portanto, muitas fomes pendentes para serem saciadas.
Sob a pressão de suas reivindicações, no campo e na cidade, proletários e camponeses, populares e despojados, e mesmo uma maioria dos sectores médios assalariados urbanos tenderam à ação sob bandeiras com forte conteúdo anti-capitalista, em especial nos países periféricos que nos últimos dez anos passaram a ser alvos de políticas de recolonização simétricas à ofensiva de restauração do capitalismo na ex-URSS. Esta tensão social latente resulta da insatisfação histórica de demandas e expectativas sempre postergadas. A pressão das tarefas, adiadas por um longo período, por isso, antecede a disposição dos sujeitos sociais, e essa dialética explica o fenômeno do substitucionismo das classes. Nos anos 90, por exemplo, o eixo da luta de classes se deslocou dos grandes centros urbanos para as lutas pela terra. No século XX, todas as revoluções políticas democráticas tiveram elementos anti-capitalistas.
A teoria minimalista comete um erro de perspectiva histórica, ao reduzir a abertura de situações revolucionárias esquematicamente a um quadro desolador de miséria crônica. As situações revolucionárias se abrem, em geral, como uma resposta da sociedade diante de uma crise social ou de um impasse histórico sem solução visível por outros meios, a não ser, a entrada em cena das mobilizações de massas. Nesse sentido, elas são indissociáveis das condições de crise que surgem aos olhos das classes sociais, como catástrofes que exigem medidas inadiáveis. A apreeensão subjetiva pelos sujeitos sociais de uma situação, como catástrofe intolerável, é sempre, no entanto, relativa. Por relativa, se quer dizer que é inseparável de uma experiência e uma expectativa histórica anterior. Por isso não é possível estabelecer, a priori, uma escala de medidas para o insustentável e para o intolerável.
Não há um sismógrafo de revoluções
Como e quando o humor das massas, sejam elas proletárias, camponesas, populares ou, até mesmo, das camadas médias plebéias, evolui no sentido da exasperação é, em cada caso, um processo singular. Por quê, o que antes era aceito de forma resignada e passiva, depois é considerado odioso e insuportável? Esse é um processo subjetivo de flutuação da consciência de classe que se altera de acordo com inúmeras variáveis que se traduzem em deslocamentos nas relações de forças.
Não tem, portanto, qualquer sustentação histórica, a premissa que vincula o recurso aos métodos revolucionários à existência prévia de uma situação terminal de pobreza material. O argumento de efeito, contudo, faz estragos e impressiona os desavisados. A discussão não é, no entanto, trivial. Só em duas condições, para resumir o problema de uma maneira brutal, as classes populares em geral, e o proletariado em particular, diminuem as hostilidades mais ou menos abertas na luta de classes, e ainda assim temporariamente.
Ou na seqüência de grandes derrotas, quando se entrincheiram atrás de suas organizações tradicionais, e a passividade é mais um intervalo para a recuperação de forças, do que resignação, ou quando ocorrem períodos de intensa mobilidade social ascendente, fases de crescimento econômico sólido, em que as concessões se antecipam às reivindicações. A força da linha de análise minimalista, reside na experiência de que, dificilmente, se poderá encontrar o exemplo de uma situação revolucionária nos marcos de uma situação econômica de expansão e crescimento, se acompanhada de margens mais ou menos elásticas e alargadas de mobilidade social ascendente. Tudo isso é certo, e por isso o argumento minimalista impressiona. Mas ele é, todavia, essencialmente falso.
Todas as classes lutam, com maior ou menor vigor e decisão, por suas reivindicações, direitos e interesses, de acordo com a maior capacidade de organização e consciência de classe que alcançaram na luta e através de uma experiência histórica que sempre se renova. Cada classe tem, por sua vez, as suas tradições próprias de auto-organização e seus métodos de luta: os camponeses obstruem estradas e caminhos e forçam o desabastecimento, invadem fazendas e ocupam prédios públicos e bancos, fazem reféns, e podem até sustentar guerras de guerrilha. Os operários fazem greves e ocupam as fábricas, os estudantes fazem assembléias de massas, ocupam universidades e escolas, e invadem as ruas, as classes populares nos bairros ocupam terrenos, fazem barricadas, incendeiam ônibus. Quanto mais homogênea socialmente, quanto mais numerosa e concentrada, mais acelerado é o processo de descoberta da força social de uma classe explorada e oprimida. O proletariado, em particular, revelou, no último século e meio, uma capacidade singular de articular redes de solidariedade social estáveis.
Quando e como o protagonismo das classes sociais subalternas evolui até o estágio em que se afirma a disposição para ações revolucionárias é um processo que só se explica na luta de classes e no processo de uma experiência histórica, em um confronto em que as outras alternativas se esgotam de tal maneira, que não surge outro caminho, senão derrubar o governo e lutar pelo poder. A luta de classes, no entanto, não se interrompe quando a situação econômica do capitalismo é mais favorável. Ela assume, somente, outras formas.
As formas podem ser mais moleculares ou subterrâneas, ou mais radicalizadas, mas a luta de classes está sempre lá. As migrações internas dentro de países ou externas de uma região do mundo para outra, são formas da luta de classes. O absenteísmo, crônico em inúmeros países, com taxas, às vezes superiores a mais de vinte por cento das populações economicamente ativas, é outra maneira de resistência embrionária. As classes lutam de acordo com as condições das relações de forças e às experiências acumuladas. Muito antes de virem o seu nível de vida cair a níveis de sobrevivência biológica, tanto o proletariado como as outras classes não proprietárias lutaram e, quando foi necessário, com energia revolucionária, na defesa dos seus interesses. As pessoas, nas condições individuais mais difíceis ou mais fáceis de suas vidas podem renunciar voluntariamente ou não à defesa do que já conquistaram. Mas as classes não renunciam coletivamente à defesa de seus interesses.
Não existe fundamento histórico na hipótese de “suicídio político” de uma classe
As classes lutam enquanto tiverem forças, ou enquanto não forem esmagadas. Muito antes de perderem tudo o que possuem as classes populares e o proletariado em especial sempre se levantaram, mesmo quando sua resistência assumiu formas “cegas, surdas e mudas”. A defesa das conquistas do período anterior pode precipitar situações revolucionárias muito antes de que se chegue a um quadro de miserabilidade completa. E, se a análise marxista da época do imperialismo moderno estiver correta, então será necessário ao capitalismo descarregar sobre os ombros das classes trabalhadoras dos países centrais os custos das medidas anti-populares indispensáveis para neutralizar a queda da taxa média de lucro. Ou seja, será incontornável um confronto com as conquistas sociais da fase do Estado de Bem Estar social na Europa, nos EUA e no Japão. Isso ocorrendo, veremos com que métodos os proletariados mais poderosos do planeta irão se defender.
Muito antes de perder o direito ao consumo diário de um litro de vinho e as sagradas férias de verão a classe operária francesa se colocará de pé. Muito antes de perder o direito ao segundo carro o proletariado branco norte-americano sairá em massa para a luta. Processos muito semelhantes também se darão com os milhões de assalariados de classe média com elevada escolaridade, enfurecidos com a limitação às suas conquistas sociais. A política reacionária de ajuste e austeridade fiscal, atingirá também, sem piedade, os sectores populares urbanos não proletários e os obrigará a se colocar em movimento. Situações e crises revolucionária serão, portanto, mais freqüentes ainda do que no passado.
Poder-se-ia, no entanto, argumentar que em situações de pobreza mais aguda, as massas populares encontram mais dificuldades de buscar a via da auto-organização e da mobilização coletiva e solidária para defender os seus interesses e reivindicações. A maioria dos economistas deslocam a sua atenção para o fato verdadeiro de que as crises econômicas prolongadas são uma pré-condição, e de alguma maneira, o caldo de cultura de inovações tecnológicas e reestruturações produtivas do capitalismo. Gigantescas massas de capital são então mobilizadas para garantir a renovação dos padrões da infra-estrutura produtiva, e se objetivam em capital fixo. E retiram como conclusão desses processos que, mesmo na crise, o capital persiste na sua missão civilizadora. Se a sua educação humanista lhes exige algum senão, reconhecem que as passagens não são indolores, e a sociedade é obrigada a pagar um preço alto pelas convulsões cegas dos ajustes da mão invisível do mercado.
Mas desprezam solenemente, o fato que nas três vagas descendentes das últimas três ondas Kondratiev, os momentos históricos de mais profunda crise do sistema, que por sua vez alimentaram sucessivamente o imperialismo anexionista do final do século, o nazi-fascismo dos anos 30 e o neoliberalismo do 80, foram as classes proprietárias que se lançaram em uma ofensiva sobre os trabalhadores e sobre os povos dos países dominados. Ou seja, que se apressaram em jogar sobre os ombros da sociedade, os custos sociais terríveis da crise depressiva prolongada.
As cinco principais vagas revolucionárias do século XX que sacudiram os países centrais do sistema, não fundamentam uma periodização que possa se harmonizar, seja por onde for, com a hipótese minimalista. Correspondem, por certo, a respostas das massas a grandes catástrofes, mas não se vinculam às periodizações das grandes crises econômicas. Duas delas, 17-23 e 45-49, sucederam o final das duas grandes guerras, demonstrando que a guerra é invariavelmente a ante-sala da revolução. A terceira, entre 1968-79, se desenvolveu durante os turbulentos anos 70, coincidindo com o final da fase de crescimento do pós guerra, e teve seu epicentro mais radicalizado em Portugal, onde o regime salazarista sucumbiu depois de quase quinze anos de uma guerra colonial em África, um “Vietnam” insolúvel militarmente, que acabou abrindo uma situação revolucionária na metrópole. A última, entre 1989-91, atingiu o Leste Europeu e a URSS, exterior ao domínio direto do mercado mundial capitalista. Somente o período posterior a 29 se enquadra no esquema minimalista. Parece, portanto, muito insuficiente.
A teoria reativa: a revolução como último recurso diante de regimes de tirania ou da tentativa de impô-los
A teoria reativa “democrática” tem, em grande medida, ainda mais dificuldades. A revolução entendida exclusivamente como uma reação defensiva da sociedade em defesa do regime democrático, é uma construção ideológica insatisfatória. Ninguém em sã consciência poderia, é claro, diminuir a importância das lutas pelas liberdades democráticas. Em particular neste século, quando a guerra talvez mais revolucionária da História, foi travada, para derrotar o nazi-fascismo.
Por outro lado, um razoável consenso histórico já se estabeleceu reconhecendo o papel decisivo das classes trabalhadoras e suas organizações na luta democrática: desde a primeira vaga de conquista de direitos políticos encabeçada pelos cartistas, ainda em meados do XIX, passando pelos direitos de organização sindical e partidária livre e independente na Alemanha de Bismarck, passando pelo movimento operário do pós-guerra que conquistou os direitos sociais de acesso universal à educação, saúde e previdência pública, até os movimentos sociais contemporâneos que vêm limitando a devastação ambiental e alargando novos direitos civis, como os de diferentes orientações sexuais.
É sempre bom lembrar que, o sufrágio universal, só se estendeu no Ocidente, ao final do XIX, depois de um século de difíceis lutas e combates dos trabalhadores (o direito feminino de voto é ainda mais recente). Além disso, a experiência do século parece ensinar que a tendência ao bonapartismo ou ao fascismo, não se explica por uma patologia especial das sociedades italiana, alemã, espanhola ou portuguesa, mas tem raízes históricas inseparáveis da crise do capitalismo, e pareceria ser um fenômeno meio crônico da contra-revolução burguesa.
A permanência tardia do capitalismo como um sistema de desigualdade social exigiu, em momentos de crise, uma limitação severa, senão a destruição das liberdades democráticas. Já ocorreu, portanto, no passado, e não há porque não pensar que possa vir a acontecer, no futuro: revoluções que se iniciam como revoluções democráticas contra a tirania ou contra a tentativa de impor uma tirania. Mas isso não esgota uma classificação das revoluções do século XX: elas tiveram outras bandeiras e outras formas. A teoria reativa tem pouco ou nada a nos dizer sobre o fato que o regime de Kerensky não era uma ditadura.
Isto posto, é necessário reconhecer que o seu argumento de efeito também impressiona, pelo menos, em um primeiro momento: afinal, todas as revoluções sociais que triunfaram depois de Outubro (China, Vietnam, Cuba, Nicarágua, Irã,etc...) derrubaram regimes ditatoriais. Mais importante, todavia, que as formas dos regimes que foram derrubados parece ser o fato histórico do deslocamento do eixo da revolução mundial do centro do sistema para países na periferia depois de 1945.
Mas enfrentemos de frente o argumento da teoria reativa: a caracterização de todas as revoluções dos últimos 150 anos, indistintamente, como democráticas é satisfatória? A coincidência de formas políticas dos regimes derrubados não nos deve levar a uma miopia sobre os conteúdos sociais distintos das forças ameaçadas pela revolução democrática em 1848, a última trincheira do Ancién Regime, e os regimes derrotados pela revolução no século XX . Qual seria a natureza social da contra-revolução neste século? A teoria reativa confunde fenômenos que não podem ser agrupados, na ligeireza. As revoluções burguesas foram revoluções democráticas anti-feudais, ou anti-aristocráticas. Ainda que o regime do Czarismo fosse herdeiro tardio da contra revolução aristocrática do século XIX, é inegável o conteúdo burguês da reação político-militar que se expressou nos exércitos brancos na guerra civil na Rússia e depois, com mais razão e de forma mais clara, no fascismo, no nazismo, e em todas as incontáveis ditaduras do século XX.
Isso se explica, em primeiro lugar, como uma reação aos novos conteúdos sociais das mobilizações das massas operárias, camponesas e populares. Esse novo conteúdo histórico-social é anti-capitalista e, por isso, sempre que as revoluções políticas, democráticas ou nacionais venceram, mais cedo ou mais tarde, abriram o caminho para revoluções sociais anti-capitalistas e, nessa dinâmica, a questão da expropriação da propriedade privada, ou seja, dos meios de trabalho, se colocou, tenham ou não triunfado. Neste aspecto se concentra a dialética entre tarefas e sujeitos sociais que resume a teoria da revolução permanente, seja qual for a sua versão, desde Marx até hoje.
O substitucionismo social, o “núcleo duro” da teoria, se apóia em uma compreensão de que a força da necessidade das tarefas à escala mundial, exerce um grau tão elevado de pressão que um programa que, historicamente, corresponderia a uma classe, mas que, pelas mais diferentes razões, faltou ao seu encontro com a História, passaria a ser cumprido por outra. Era, talvez, nesse sentido que Marx pensava o famoso “a História não se coloca problemas que não possa resolver”.
Claro que o próprio Marx, foi sempre muito cauteloso em retirar conclusões teóricas apressadas e, por isso, só esboçou a possibilidade de substituição da burguesia como sujeito social, e ainda assim, em um texto essencialmente “alemão”, o famoso Adresse à Liga dos Comunistas, onde trabalhava com a hipótese de que a pequena burguesia poderia substituir a burguesia na revolução democrática, ou seja uma reedição da experiência jacobina. Como sabemos, esta hipótese não se verificou, ou só se manifestou muito parcialmente, nas revoluções de 1848.
As transições tardias assumiram, finalmente, formas não revolucionárias, tanto na Alemanha (o regime bismarckista, com seu exdrúxulo equilíbrio de forças sociais que permitiu o aburguesamento dos junkers, sem revolução camponesa, e a industrialização capitalista, sem desmoronamento do II Reich), quanto, em muito menor medida, na Itália. A explicação “última” para esse processo tortuoso, está em uma dialética entre Revolução e Reforma, que escapa às análises que perdem a referência da dimensão internacional da transição burguesa: é porque a burguesia francesa ensaiou, mesmo que “com o freio de mão puxado” uma segunda revolução para derrotar a Restauração, que a burguesia alemã, renunciou à sua revolução de “89”. Alertada pelo exemplo de Paris, para o despertar das novas forças sociais proletárias, sobretudo na insurreição de Junho de 48, preferiu uma solução de compromisso com os “terratenentes” prussianos, e tolerou o bismarckismo até quase o final do XIX. Só então, se sentiu mais confortável, representada por um regime democrático/semi-bonapartista, construído por cima, através de reformas controladas, entre as quais, a legalidade do SPD, sempre foi uma das questões centrais de disputa.
Essas observações são ainda mais pertinentes para compreendermos os conflitos sociais na época mais revolucionária da História da humanidade. No século XX, a engrenagem da “Permanente” resume as leis fundamentais do processo revolucionário contemporâneo: confirmou-se de tal maneira e em uma tal escala, que fazem os prognósticos, tanto de Marx quanto de Trotsky, parecerem muito tímidos. O substitucionismo social ultrapassou tudo que as mentes mais audaciosas pudessem prever, e quem sabe, o que ainda nos está reservado no futuro. Quem poderia imaginar, no início do século, um processo revolucionário como o Cubano, uma raríssima combinação de guerrilla com base camponesa e rebelião urbana popular, com fortíssimo protagonismo dos sectores médios assalariados, em uma ilha a poucas dezenas de kilômetros dos EUA, a fortaleza da reação?
Ou a revolução iraniana, com seus assombrosos paradoxos: uma massa urbana plebéia, mas semi-camponesa, engajada em uma revolução democrática anti-imperialista contra a ditadura feroz do Xá, dirigida por uma Igreja nacionalista, portadora de um programa com muitos elementos semi-medievais? É a dimensão internacional da luta de classes, um dos traços chaves da época revolucionária atual, que não deve ser perdida de vista: um triunfo revolucionário (ou uma derrota diante da contra-revolução), tendencialmente provoca um efeito dominó quase imediato à escala global.
Esses efeitos podem ser diretos ou indiretos: não podemos esquecer que a construção do Welfare State nos países centrais, no imediato pósguerra, é incompreensível, senão como uma conseqüência da derrota do nazi-fascismo, e da autoridade da URSS, depois da entrada do exército vermelho em Berlim: um exemplo da dialética entre mudanças impulsionadas por reformas e por revoluções. É porque ocorreu uma vitória por métodos revolucionários, que foram possíveis as concessões conquistadas por métodos reformistas. Esse é um dos erros mais importantes daqueles que se apressam em considerar enterrada a época de revoluções e assopram antes da hora as velas do bolo da maioridade do mercado e da democracia. A crise da democracia é um fenômeno mundial, embora mais avançado na periferia do sistema, onde as “democracias coloniais” desmoronam diante da perda da legitimidade que a recolonização provoca. A principal ameaça aos regimes democráticos resulta, paradoxalmente, da ação irrefreada do mercado, que destrói a coesão social. A idéia de massas exasperadas e ululantes nas ruas, em defesa das atuais democracias eleitorais, dos corruptos sistemas de justiça, e da “liberdade democrática” dos capitais circularem sem limites para qualquer região do mundo, em suma, em defesa do mercado, pode ter tido algum eco nos primeiros anos da década dos 90, mas aparece hoje, diretamente, como ridícula.
A menos que a ameaça à democracia venha de uma variante bonapartista ou fascista é pouco provável que seu apelo possa comover as grandes massas populares. As grandes massas, crescentemente, não alimentam mais esperanças nas possibilidades de mudança através dos votos nas urnas. Isso não significa que as formas de auto-organização, e o prestígio da ação direta, tenham conhecido um progresso muito significativo. Mas a crescente degeneração das democracias eleitorais em circos de propaganda, a ruína da influência dos partidos tradicionais, a desvalorização abismal da atividade política, e, finalmente, o desprezo das massas pela manipulação eleitoral mais desavergonhada, é inegável e impressionante.
O problema da teoria reativa “democrática”, é, no entanto mais complexo, porque envolve uma reapreciação de toda a história do século. Essa posição, em coerência com seu parti-pris, defende que a revolução de Outubro, finalmente, a única revolução anticapitalista que teve o proletariado como sujeito social, teria sido a última das grandes revoluções do século XIX: ao triunfar, em um país de importância central para o sistema, era a expressão da última vaga da época das revoluções burguesas, e, por isso, a sua obra foi mais a derrubada do Czarismo, do que a expropriação do Capital. Teria sido, assim, uma completa exceção histórica, um acidente político, um anacronismo desnecessário, porque teria conduzido ao poder os bolcheviques com um programa “irrealista” de transição ao socialismo, em uma época em que o capitalismo estava muito longe de esgotar as possibilidades de expansão das forças produtivas. Conclui-se, portanto, em decorrência, que os mencheviques tinham razão, que a História os absolveu em 89, com a restauração capitalista, e que a revolução deveria ter se resumido à tarefa de eliminar uma excrecência absolutista anacrônica no século XX.
Por último, a conclusão teórica que se impõe, nessa linha de raciocínio: Outubro teria fechado a época das revoluções burguesas, ao invés de abrir a época das revoluções proletárias. O tema da revolução russa é uma presença obrigatória em todas as discussões históricas sobre periodização de épocas e situações, por variadas razões. A principal e inescapável, mas freqüentemente desprezada, é muito simples: Outubro demonstrou que era possível.
Até Outubro, a possibilidade de uma revolução socialista era uma hipótese que, provavelmente, a maioria dos dirigentes dos partidos operários de massa, encarava como um prognóstico de Marx para um futuro além do seu horizonte político, isto é, para as calendas gregas. Mas a revolução de Outubro colocou todos os esquemas de cabeça para baixo. Simplesmente não tinha ocorrido a ninguém de educação marxista, que fosse possível iniciar a construção do socialismo na atrasada Rússia antes de 24/5. A estratégia bolchevique de fundar uma nova Internacional respondia à necessidade vital da Rússia soviética: a extensão internacionalista da vaga que os tinha levado ao poder.
Muitos historiadores argumentam que a história teria demonstrado que a Alemanha nunca correu o risco de viver um Outubro. Essa conclusão, todavia, está longe de ser um consenso histórico. Primeiro é importante não esquecer que a Alemanha viveu uma revolução vitoriosa em Novembro de 18, e, provavelmente, a situação revolucionária se manteve aberta pelo menos até 23, quando se teria deflagrado uma segunda crise revolucionária, talvez mais profunda que a de 18/19. Que esta segunda crise revolucionária tenha sido derrotada, não significa que não tenha existido.
A discussão sobre época, colocada desta forma é, no entanto, claramente insustentável. Pensar a revolução russa como a última das revoluções democráticas do XIX, e Outubro como um golpe de estado, um putch blanquista, tem outra conseqüência: exige ignorar que uma situação revolucionária se abriu como uma vaga em toda a Europa Central, em especial, a desenvolvida e civilizada Alemanha, e não foi uma exceção que atingiu somente o arcaico e anacrônico Império do Czar.
A subestimação da profundidade da revolução alemã, no entanto, merece uma explicação histórica. Ela é muito útil para demonstrar a tese que revoluções proletárias naufragam diante das águas estáveis de regimes democrático-liberais em que a alternância no poder pode ser alcançada pelo voto. Esse senso comum resulta, muito possivelmente, do fato de que, finalmente, foi Hitler quem chegou ao poder, sobre as ruínas de Weimar. Mas não é um despropósito completo que se pense que, se as classes trabalhadoras alemãs não foram capazes sequer de defender a democracia, como poderiam ter se colocado a perspectiva plausível de um Outubro alemão? Sendo compreensível esse raciocínio é, essencialmente, falso.
A questão histórica na verdade deve ser analisada pelo caminho inverso: é talvez porque os trabalhadores fracassaram em oferecer ao conjunto da sociedade e à maioria da nação uma saída socialista que foi possível a Hitler chegar ao poder. Pelo menos em 1923, era muito mais credível um governo operário do que um Governo nazi. É importante recordar quais eram alguns traços da situação social em 23 quando a greve geral derrubou de forma fulminante o governo Cuno, e levou o SPD ao governo de novo, e Hilferding ao Ministério das finanças (para realizar o plano de estabilização monetária que inspirou a idéia da URV do Plano Real no Brasil em 94). O Ruhr estava sob ocupação militar francesa, como represália à moratória unilateral que o governo alemão tinha sido obrigado a declarar para as dívidas das reparações de guerra, em função da situação econômica caótica.[10]
Controvérsias em aberto e debates conclusivos
Voltemos à perspectiva histórica: menos de quarenta anos depois de Outubro, mais de um terço da humanidade vivia em países em que a propriedade privada dos grandes meios de produção tinha sido eliminada. Essa evolução histórica exige uma explicação. Mesmo admitindo, por um minuto, com a historiografia conservadora que as revoluções foram exceções, ainda assim, isso parece ser uma “exceção” grande demais. O mundo tinha passado pelo calvário da Segunda Guerra Mundial, e vivido o horror do nazi-fascismo. Como explicar esse desenlace se não recorremos ao conceito de época revolucionária?
Existem discussões históricas, como sabemos, que são razoáveis, difíceis de serem resolvidas e que permanecem em aberto até que o tempo, os desenlaces do debate e os progressos da pesquisa permitam esclarecer as controvérsias. Vejamos um exemplo: pode-se, sem dúvida, debater, o papel dos quilombos como forma de resistência social no Brasil do XIX e sua importância na abolição da escravidão. O que teria sido decisivo: as fugas em massas das fazendas, a pressão inglesa contra a permanência da escravidão, ou a derrota do Sul escravista na Guerra Civil nos EUA?
Mas não é razoável discutir, depois de décadas e décadas de guerras e confrontos terríveis entre revolução e contra-revolução, qual é a natureza da época atual. Pode-se até, especular prospectivamente sobre o futuro, e avançar hipóteses sobre uma mudança de época no final dos anos 80, a partir da restauração capitalista, por exemplo. Como já tentamos demonstrar, essa posição parece difícil de ser solidamente argumentada, mas não mereceria ser inteiramente desprezada. Ela é pertinente ao debate, porque este está, por enquanto, inconcluso. Afinal, o futuro é sempre mais complexo do que nossos prognósticos podem apreender. Mas não parece, entretanto, ter o mínimo fundamento reescrever uma apreciação do século que se encerrou, ignorando que foi a época mais revolucionária da história da humanidade, tal como Marx tinha previsto.
[1] (Karl Marx, e Friedrich Engels, “Manifesto do Partido Comunista”. in 150 Anos de Manifesto Comunista. São Paulo, Editora Xamã, 1998. p. 149.)
[2] Depois da restauração capitalista na ex-/URSS muitos socialistas se inclinaram por fórmulas que recuperam idéias de Proudon, como o Banco do Povo e as cooperativas, apresentados como novos paradigmas. Continua, no entanto, ignorada ou subestimada a luta que Marx e Engels tiveram que desenvolver contra os critérios dos “utópicos” e a influência recorrente de suas idéias. Sobre este tema, e referindo-se à passagem do Manifesto em que Marx apresenta sua crítica aos socialistas que serão criticados como utopistas, Martin Buber faz as seguintes observações: “Só poderemos aquilatar o caráter político dessa declaração dentro do movimento socialista-comunista de então, se considerarmos que ela se dirigia contra as concepções que haviam imperado na própria “Liga dos Justos" e que foram suplantadas pelas idéias de Marx (...) Portanto, o capítulo do Manifesto que impugnava o “utopismo” tinha o significado de um ato de política interna, na acepção mais genuína da palavra; concluir vitoriosamente a luta que Marx, secundado por Engels, sustentara inicialmente dentro da própria "Liga dos Justos” (e que agora se chamava “Liga dos Comunistas) contra as demais tendências que se denominavam a si mesmas, ou que eram denominadas por outras, de comunistas. O termo "utópico” foi o último e o mais afiado dardo desfechado nessa luta.”(grifo nosso) (Martin Buber, O socialismo utópico. Trad. Pola Civelli. São Paulo, Perspectiva, 1986. p.10-11).
[3] Karl Marx, e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã. Trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira. Porto, Presença, 1974. p.47
[4] Na Ideologia Alemã, Marx ainda não trabalhava com o conceito de relações sociais de produção. Essa observação e outras, igualmente úteis, foram recolhidas n’ A formação do pensamento econômico de Karl Marx, de Ernest Mandel.
[5] MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira. Porto, Presença, 1974. p.50
[6] (VILAR, Pierre. “A transição do Feudalismo ao Capitalismo” In SANTIAGO, Theo Araujo. Capitalismo Transição. Rio de Janeiro, Eldorado, 1974. p. 47)
[7] ( FURET, François, O Passado de Uma Ilusão, São Paulo, Siciliano, 1995, p111)
[8] (MARX, Karl, Manifiesto Inaugural de la Associación Internacional de los Trabajadores, in La Internacional, Mexico, Fondo de Cultura Econômico,1988, p.4/5)
[9] Immanuel Wallerstein, Capitalismo histórico, Civilização capitalista, Rio de Janeiro, Contraponto,2001, p.86/87
[10] Caótica não é sequer uma força de expressão. A taxa de juros tinha escalado a montanha dos 100% diários. A inflação tinha disparado para fora de controle, uma verdadeira hiper (muito diferente da nossa conhecida super-inflação dos anos 80). Para que se tenha uma idéia: o dólar americano tinha passado de 1000 marcos em abril de 22, para 56.000 marcos em meados de janeiro de 23 e tinha atingido 60 milhões em 7 de setembro do mesmo ano. Um ovo custava 300 marcos em fevereiro de 23 e 30.000 em agosto. As estatísticas informam que os salários teriam subido em média 87.000 vezes e os preços médios 286.000 vezes. O salário semanal de um metalúrgico era de 300 marcos no final de 22 e em julho de 23, de 4 milhões: mas em dólares o salário tinha caído de 30 para 14. A antiga Alemanha orgulhosa tinha desabado, em poucos anos, a níveis de miséria impensáveis: a fome generalisada, milhões de desempregados, colapso social. Com o nivelamento social por baixo que a transferência de renda produz em pouquíssimo tempo em uma situação de hiper-inflação, a antiga aristocracia operária que tinha acumulado lentamente conquistas organizada pelo poderoso SPD tinha deixado de existir. A prática politica de décadas do reformismo não era mais possível: as bases materiais tinham desmoronado. O PC da Alemanha crescia de forma vertiginosa, e tinha se transformado já no partido majoritário da juventude trabalhadora, talvez até da classe trabalhadora. Tem então algo em torno de 220.000 militantes; publica 38 jornais diários com um total de 340.000 assinantes; no Reichstag são só 14 deputados nacionais, contudo são 72 nas assembléias regionais na províncias e 12.000 conselheiros municipais em 420 cidades. Mas é nas empresas que é mais claro o progresso dos comunistas, porque a atividade sindical concentra o grosso de suas forças e seus esforços, e é junto aos sectores mais concentrados do proletariado que a sua influência se eleva mais rápido, embora ainda sejam, na direção dos sindicatos, uma minoria em relação ao SPD.