Resumindo, talvez além do admissível, as investigações acerca da essência humana, poderíamos afirmar que nela encontramos dois grandes momentos. O primeiro, que vai dos gregos até Hegel, e o segundo, de Marx até nossos dias.
O primeiro período se subdivide em três momentos. A Grécia Antiga que, desde Parmênides, estabeleceu o patamar do que viria a ser a discussão, até Hegel; o período Medieval, Santo Agostinho e São Tomás como seus maiores expoentes e, finalmente, Hegel, principalmente o da Fenomenologia do Espírito. O que caracteriza todo este primeiro período é a concepção dualista/transcendental de que teríamos um “verdadeiro ser”, que corresponderia à essência, à eternidade, ao fixo; e um ser menor, ou uma manifestação “corrompida” do ser, que seria a esfera do efêmero, do histórico, do processual.
No mundo grego, a concepção da relação entre o homem e seu destino foi moldada a esta concepção mais geral. Existiria uma dimensão essencial, eterna, que não poderia ser construto dos homens nem poderia ser por eles alterada. Esta dimensão, por sua vez, impunha limites ao fazer a história pelos homens. Assim, em Platão, a direção da história é dada, não pelas ações dos próprios homens, mas pela referência fixa ao modelo, também fixo, da esfera essencial das Idéias.
Mutatis mutandis, em Aristóteles um esquema análogo pode ser encontrado. O Cosmos seria uma estrutura esférica que articularia uma esfera eterna (a das estrelas fixas) com o seu centro, no qual se localizaria a Terra, onde tudo não passaria de movimento, de história. Esta estrutura forneceria a cada coisa o seu “lugar natural”, de tal modo que conhecer a essência de cada ente nada mais significava que descobrir o seu “lugar natural” dentro da estrutura cosmológica. O “lugar natural” dos homens seria o espaço limitado pelos semideuses e os bárbaros: a humanidade poderia se desenvolver no espaço entre os bárbaros (os humanos mais primitivos) e os gregos (em especial os Atenienses, os humanos mais desenvolvidos). Tal como em Platão, também em Aristóteles o limite da história humana é dado, não por nenhuma dimensão propriamente sócio-história, mas pelo caráter dualista de sua concepção de mundo: a essência impõe aos homens o “modelo” da Idéia ou o “lugar natural” do Cosmos. Em ambos os casos, cabe aos homens, no limite, apenas desenvolverem as possibilidades que lhes são fornecidas por esta estrutura ontológica mais geral.
A enorme crise que marca a transição do escravismo ao feudalismo é o primeiro momento da história humana em que, por séculos, os homens foram submetidos a um processo de decadência. As contradições internas ao modo de produção escravista, potencializadas pela sua particularização em Roma, junto com a expansão dos povos bárbaros (que se relacionava, em alguns casos como os varegues e magiares, com a expansão do Império Chinês), fez com que a crise do Império Romano fosse também a crise final do escravismo. Desta crise, dos entulhos de Roma e da sua apropriação pelos povos “bárbaros”, terminou surgindo, num processo tortuoso, desigual e muito prolongado, o que viria a ser o modo de produção feudal.
A vivência, por séculos, de um processo histórico de decadência no qual a única certeza era que o amanhã seria pior que hoje, terminou dando origem a uma concepção fatalista da história. Tal fatalismo é o reflexo ideológico do «destino cruel» ao qual os homens estavam submetidos naquele momento histórico. E, por esse motivo, as seitas religiosas então portadoras de uma concepção segundo a qual os homens estavam aqui na Terra para sofrer e pagar os seus pecados terminaram se transformando na expressão ideológica predominante daquele momento histórico. Foi neste contexto que surgiu e se desenvolveu a Igreja católica.
Tal como a concepção grega de mundo, aqui também se mantém uma estrutura ontológica dualista: Deus, enquanto eterna e imutável essência de tudo versus o mundo dos homens, cuja característica é ser locus do pecado e, por isso, efêmero, mutável e transitório. Tal como os gregos, os homens medievais também concebiam a sua história como a eles imposta por forças que estes jamais poderiam controlar. Diferente dos gregos, contudo, a concepção cristã pressupõe os homens como essencialmente ruins, pecadores e, por isso, merecedores do sofrimento terreno. O pecado original explica a razão e os limites do sofrimento humano: temos um destino de sacrifícios porque pecamos, este sacrifício termina com o Apocalipse e o Juízo Final. Depois dele, a danação eterna ou o Paraíso. Novamente, a história humana seria portadora de limites que não poderiam ser alterados pelos homens: estava encarcerada entre a gênese e o apocalipse.
A passagem do mundo medieval ao mundo moderno não conseguiu romper completamente com a dualidade entre a eternidade da essência e a historicidade do mundo dos homens. Certamente, o pensamento moderno abandona a concepção medieval de uma essência divina dos homens; a essência humana é agora entendida como a «natureza» dos homens. Esta “natureza”, por sua vez, nada mais é que a projeção à universalidade da “natureza específica” do homem burguês: acima de tudo, ser proprietário privado. Os padrões modernos de racionalidade e de essência humanas correspondem às condições de vida nas sociedades mercantis, então em pleno desenvolvimento. A relação comercial capitalista, um momento apenas particular da história, é transformada na essência eterna e imutável de todas as relações sociais: o homem se converte em lobo do homem.
Tal como com os gregos e medievais, também o pensamento moderno está preso à concepção segundo a qual os homens desdobram na sua história determinações essenciais que nem são frutos de sua ação, nem poderiam ser alteradas pela sua atividade. Por serem essencialmente proprietários privados, o limite máximo do desenvolvimento humano não poderia jamais ultrapassar a forma social que permite a máxima explicitação dessa sua essência imutável, a propriedade privada. Para ser breve: não há como se superar a sociabilidade burguesa porque o homem, sendo essencialmente um egoísta e proprietário privado, não conseguiria desdobrar nenhuma relação social que superasse essa sua dimensão mesquinha. Nisto se resume, no que agora nos interessa, as reflexões acerca da “natureza humana” nos modernos. De Locke e Hobbes a Rousseau, a natureza humana comparece como a determinação essencial dos homens, determinação esta que impõe os limites da história e que não pode ser por esta alterada. Sob uma nova forma, e com um novo conteúdo de classe, nos defrontamos novamente com a velha concepção ontológica dualista: há uma dimensão essencial que determina a história sem ser resultante, nem poder ser alterada, pela história que ela determina. Para os modernos, esta dimensão é a “natureza” de proprietário privado dos indivíduos humanos.
Hegel leva esta concepção às suas últimas conseqüências. O Espírito Absoluto é o resultado rigorosamente necessário das determinações essenciais do Espírito em-si: a essência, posta no início, determina sua passagem para o seu para-si. A verdade está no fim, mas a essência do processo que determina o fim como verdade está posta já no seu primeiro momento. Direção dada pela essência, a história adquire um caráter teleológico cujo resultado não poderia ser outro senão a plena explicitação da essência já dada desde o início: a sociedade burguesa representa o “fim da história”.
Lukács argumentou à saciedade os traços “positivos”, “revolucionários” e “verdadeiros” das realizações hegelianas, fundamentalmente sua concepção da história enquanto uma processualidade dialética. Não poderíamos, aqui, nos deter sobre este aspecto do problema, ainda que nos pareça imprescindível ao menos assinalá-lo. O que a nós importa é que, tal como na Grécia clássica, a essência em Hegel não é um construto, nem poderia ser radicalmente modificada pela processualidade (a história dos homens) da qual é a determinação essencial. E, se a essência funda o processo, o problema da origem da essência, de sua gênese, passa a ser literalmente insolúvel. Para os gregos, esta questão nunca foi decisiva, pois como, segundo eles, para a essência ser perfeita teria que ser eterna, a questão da sua gênese pôde ser evitada. Para a Idade Média, a origem da essência dos homens está em Deus, especificamente na Criação. Para eles, portanto, desde que não se perguntasse pela gênese de Deus (tal como entre os gregos, descartada pela afirmação de sua eternidade), a origem da essência humana era explicada pela ação divina.
Para os modernos, esta questão era resolvida pela afirmação da eternidade da “natureza” humana. Ser humano significa ter a natureza dos homens, isto é, acima de tudo, ser portador da “racionalidade” do proprietário privado. Em última instância, a concepção de que Deus fez os homens com esta natureza termina permeando os escritos de muitos dos seus mais importantes pensadores. Em Hegel, o problema da gênese recebe uma solução de caráter estritamente lógico. Na Ciência da Lógica termina por transformar o “nada”, de não ser, não-existente, em o “ser-do-outro”, em uma relação de alteridade, de diferença, ao invés de uma relação de negação ontológica. Com isso, Hegel perde a possibilidade de incorporar, em seu sistema, a negação ontológica, categoria decisiva na história humana, ainda que não exclusivamente nela. (8)
A essência a-histórica não pode possuir na história sua gênese; por isso, toda concepção histórica que se baseia nesta concepção deve pressupor, de alguma forma, uma dimensão transcendente que funda esta mesma essência. Tal determinação não-social da história humana faz com que esta seja portadora de um limite que ela não pode em hipótese alguma superar, e não é mero acaso que em todos os casos este limite seja exatamente a sociedade à qual pertence o pensador. Para Aristóteles, o lugar natural dos homens fazia de Atenas o último e mais desenvolvido estágio de desenvolvimento humano; para a Idade Média, a sociedade feudal era uma criação divina que corresponderia à essência pecadora dos homens; para os modernos, a melhor sociedade é aquela que possibilita a explicitação plena do egoísmo essencial dos proprietários privados, a sociedade mercantil burguesa; e, finalmente, para Hegel, a plena realização da essência humana é o Espírito Absoluto, no qual a sociedade civil (bürgerlisch Gesellschaft) encontra no Estado seu complemento dialético ideal, garantindo assim a vida social em seu momento mais pleno (o que inclui, claro, a propriedade privada burguesa).
Em suma, todas as principais concepções ontológicas, da Grécia a Hegel, conceberam a essência humana como a-histórica, no preciso sentido que ela funda e determina a história da humanidade contudo não pode ser determinada ou alterada por ela. A imutabilidade da essência aparece como condição indispensável da história: a efemeridade dos fenômenos históricos apenas poderia existir fundada por uma instância externa à história. Desta concepção ontológica decorrem três conseqüências inevitáveis:
1) o fundamento da história não pode ser ela própria, mas sim, uma instância a ela transcendente. Daqui, o caráter dualista das ontologias até Marx, Hegel incluso;
2) por ser fundada em uma categoria não-histórica, o sentido da história decorre da essência da sua categoria fundante (a ordem cosmológica, o Mundo das Idéias, Deus, a “natureza” do proprietário privado burguês ou o Espírito hegeliano). A realização dessa essência se transforma no limite intransponível à história humana: o desenvolvimento da humanidade, por possuir um fundamento que não ele próprio, termina limitado por barreiras que não decorrem dele, e que por isso não as pode superar. É este elemento de todas as ontologias antes de Marx que as faz ideologias justificadoras do status quo da sociedade na qual surgiram. É aqui que reside explicitamente seu caráter mais conservador;
3) por ter um início e um fim determinados por uma essência a-histórica, as ontologias que tratamos não poderiam evitar uma concepção teleológica da história. O destino humano teria sua explicação última no sentido da história, sentido este determinado do exterior da história enquanto tal.
Segundo Lukács, o projeto revolucionário marxiano realiza a superação de todas estas concepções a-históricas da essência humana, bem como das concepções teleológicas da história que necessariamente as acompanham. É isto que o pensador húngaro se propõe a demonstrar com a sua Ontologia. Para facilitar a exposição de como Lukács realiza esta demonstração, a desdobraremos em dois momentos: 1) o estatuto ontológico da essência e, 2) as categorias ontológicas que fundam a historicidade da essência humana.
(8) Cf. Sérgio Lessa, “Lukács, Engels, Hegel e a categoria da negação”. Ensaio, 17-18, 1989.





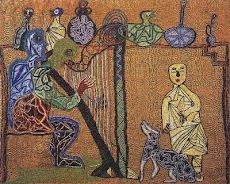






4 comentários:
quero aradecer,pelocomentario li e tendi perfeitamente, Doni, Campo grande ms!!!
A essência divina ainda que pareça ter justificado situações opressoras, em nenhum momento, considerado o Cristianismo de forma não tendenciosa, essa essência vem a reforçar uma situação de opressão ou obstruir logicamente sua superação.
Pelo menos não é isso que eu aprendi no Cristianismo. O mandamento do amor ordena que se supere qualquer situação opressora entre os homens, sobretudo visando ao aspecto teleológico da essência humana.
Uma banalização do conceito de essência nos gregos, em Hegel, e uma exposição panfletária da determinação lukacsiana. Compreendo a intenção da difusão de ideias de um importante pensador como Lukács, mas expor problemas complexos de um modo tão genérico e superficial, presta um desserviço ao debate filosófico.
Lamentável. Nunca vi tanta superficialidade ao tratar dos fundamentos do problema ontológico. Um verdadeiro assassinato do pensamento de Platão, Aristóteles, etc. Não é um texto para ser levado a sério.
realmente lamentável.
Postar um comentário